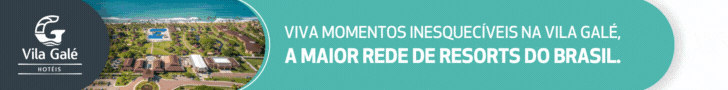Humberto Cunha Filho *
Criado em 1985, apesar de três rebaixamentos ao status Secretaria, o Ministério da Cultura celebra 40 anos de atividades, idade que, para as pessoas naturais, é tão importante a ponto de ser associada ao verdadeiro nascimento social, pois nela geralmente se firma aquilo que chamamos de maturidade, fase da vida caracterizada por sabermos o que queremos, quais os nossos propósitos, tendo clareza em comunicar as nossas vontades e decisões às pessoas com as quais convivemos.
Apesar de quarentão, o tão sofrido quanto importante Ministério, ainda padece de graves imaturidades, seja quando se vincula à confusa ideia de servir apenas aos “fazedores de cultura” (e não a toda a sociedade), seja quando navega no universo político sem uma definição segura das razões de sua própria existência, como no exemplo que exploraremos adiante.
Quem visita o site do Ministério da Cultura do Brasil nota que, em termos retóricos, uma das ideias mais valorizadas é a de “sistema”, havendo abas específicas para alguns deles. Na prática, porém, aparenta que as coisas funcionam de forma um tanto quanto “assistemática”, pelo menos no campo normativo, como já tivemos a oportunidade de analisar a (in)compatibilidade da Lei Sistema Nacional de Cultura relativamente à Constituição, cuja relação lembra a de um casal numa dança em que um dos dois tem baixíssima noção de movimentos e ritmos (a lei), chegando a pisotear e desequilibrar o parceiro (a Constituição).
Buscando elementos para um estudo comparado entre órgãos de gestão cultural, deparei-me com o Decreto nº 11.336, de 1º de janeiro de 2023 que, dentre outras providências, aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Cultura, a qual consta do Anexo I, cujo Art. 1º especifica, em oito incisos, os assuntos que integram a “área de competência”, da Pasta sob análise, cujo conhecimento e leitura faz suscitar mais dúvidas que certezas, fazendo com que a norma não cumpra isoladamente a sua função (ser entendida a partir da leitura) e, por conseguinte, não tenha, muito menos, possibilidade de integração sistêmica.
O primeiro inciso contempla “política nacional de cultura e política nacional das artes”, fazendo suscitar muitas perguntas: são duas políticas? A política das artes (espécie) não está na política de cultura (gênero)? A dicotomia faz com que qualquer assunto cultural diferente de artes integre a política de cultura?
A última dúvida parece particularmente pertinente pois não se vê referência ao todo de uma política patrimonial, mas a aspecto pontual, a saber: “proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural” (inciso II). No caso, os primeiros questionamentos que afloram são: nessas esferas, a ação se resume à proteção? E os patrimônios histórico e artístico (espécies) não se integram no dimensionamento de patrimônio cultural (gênero) contido no Art. 216 da Constituição?
Se sim, baseado na justificativa de tratar-se apenas da necessidade de especificação, por que não aparece, por exemplo, o patrimônio da paisagem cultural? Complica um pouco mais o quadro, o inciso VIII, que determina “formulação e implementação de políticas, de programas e de ações para o desenvolvimento do setor museal”, potencialmente composto de todo tipo de acervo e, portanto, de todo tipo de patrimônio.
Mas por que só os museus? Qual a razão de não aparecerem os arquivos e as bibliotecas, equipamentos citados no mesmo Regimento? Decorreria do fato de que essa atividade de política cultural está atribuída a outro órgão da estrutura federal? Se sim, como se explicam órgãos específicos da Pasta que tratam dos assuntos omitidos?
Bem curioso é o papel coadjuvante do MINC, contido no inciso IV, o de prestar “assistência ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária nas ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos”.
Esse dispositivo revela a ideia de transculturalidade, segundo a qual a atividade cultural atravessa os distintos setores e órgãos da estrutura pública. Todavia, no caso concreto, a preocupação se centra na “identidade”, quando deveria estar na “identificação”, pois uma comunidade quilombola pode ter por base de sua formação a diversidade cultural. Aliás, o inciso V reforça esse argumento ao aludir à “proteção e promoção da diversidade cultural”.
Igualmente deveria constar no âmbito da transculturalidade o “desenvolvimento e a implementação de políticas e ações de acessibilidade cultural” (inciso VII) e o “desenvolvimento econômico da cultura e a política de economia criativa” (inciso VI), pois se materializam em atividades que podem ocorrer em qualquer órgão ou política, públicos ou privados.
Por fim, a “regulação dos direitos autorais” (inciso III), competência que acende um alerta em face da diferença entre as palavras “regulação”(especificar direitos e deveres) e “regulamentação” (definir políticas e procedimentos). No caso, a regulação é feita por lei (atualmente, a Lei nº 9.610/1998), cuja matéria sequer é privativa do Poder Executivo; portanto, quando muito, a estrutura do Ministério da Cultura pode apenas regulamentar aspectos operativos dos direitos autorais e se encarregar do assunto nos limites da gestão federal.
Esse quadro sugere que a efetiva valorização da ideia sistêmica merece mais cautela e atenção no âmbito do Ministério da Cultura, pois ele trata com temas muito diferentes e delimitações muito imprecisas, e se as normas não forem claras e coerentes, leva a voluntarismos que ampliam ainda mais as incertezas sobre as políticas e os direitos culturais.
O panorama descrito (que é apenas um exemplo, como visto) associado à efeméride dos 40 anos, torna recomendável que o MINC faça uma reflexão profunda sobre os significados da sua existência, como exercício de autoconhecimento, para que reconstrua sua própria identidade normativa e a comunique de forma coerente e inclusiva ao conjunto de todo o povo brasileiro; para tanto, não precisa abandonar as demandas do presente, mas a elas precisa agregar os saberes obtidos do passado, projetando-os, com os aprimoramentos necessários, aos projetos futuros, pois o ato integrador das três dimensões referidas chama-se, a propósito, tempo cultural.
*Humberto Cunha Filho, Professor de Direitos Culturais nos programas de graduação, mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Presidente de Honra do IBDCult –Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Autor, dentre outros, do livro “Teoria dos Direitos Culturais: fundamentos e finalidades” (Edições SESC-SP).